História do verdadeiro Jazz, Hugues Panassié
O terceiro livro de Jazz editado em Portugal foi escrito pelo fundador do Hot Club de France, Hugues Panassié (o nome do autor é citado no livro, mas também na bibliografia que se pode encontrar na internet ou em bibliotecas, como Hugues Panassié ou Hughes Panassié), e dá pelo nome de História do Verdadeiro Jazz (Portugália Editora, 1964).
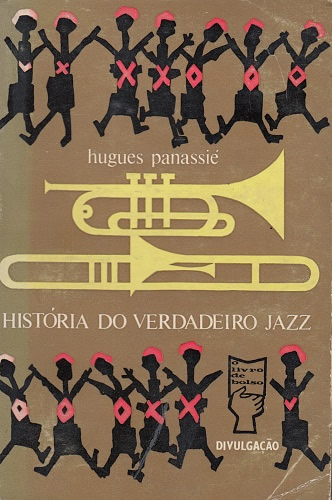
A razão de ser do livro, declarada desde logo na Introdução, é o de esclarecer o que é o verdadeiro Jazz (do falso Jazz), fazendo a história da «música dos negros dos Estados Unidos da América» e «nenhum branco pode permitir-se classificar como Jazz uma música que não obedeça a essas leis» específicas estabelecidas pelos negros na criação do Jazz.
Logo nas páginas seguintes Panassié esclarece que o bop e o cool são falsificações do Jazz, mesmo se tocados por negros; uma imitação da música dos brancos; acrescentando que o Jazz é uma linguagem musical criada pelos negros que os brancos podem tocar se aprenderem a exprimir-se nesse idioma: «Deve, como toda a linguagem, exprimir qualquer coisa. Atrás das palavras, das notas, tem o sentido, o espírito.».
No primeiro capítulo, o fundador do Hot Club de France faz a história das origens do Jazz, desde África ao delta do Mississippi, apontando as formas musicais que deram origem ao Jazz: os Blues e os cânticos religiosos, seguindo-se, já no capítulo II, a caracterização do Jazz como música urbana, ao invés dos blues, de natureza rústica.
Na descrição dos contest, Panassié define o Jazz como uma linguagem musical, uma música de virtuosos, orquestral e oral: «O Jazz é a música orquestral nascida da adaptação da música puramente vocal e rítmica dos negros ao domínio instrumental»; uma música colectiva («onde a inspiração de uns depende da dos outros») e não escrita.
Outra das características indissociáveis do Jazz para Panassié é a utilização dos compassos quaternários, ao invés dos tradicionais binários das bandas de marcha militares, e a acentuação do segundo e o quarto tempos, que resultam no swing, a pulsação rítmica definida pela acentuação dos tempos fracos «característica dos negros», onde a bateria tem um papel preponderante.
Não menos importante é também «a técnica instrumental que deriva directamente da forma de cantar dos negros», que lhes permite exprimir os estados de alma e sentimentos que os cantores de blues e espirituais, que lhes permite fazer cantar o instrumento como uma voz humana.
Entre o êxodo de New Orleans, Chicago e o Harlem de New York, que descreve como os grandes centros de disseminação do Jazz, Panassié renega o Jazz comercial dos brancos, estabelecendo as diferenças, na pulsação, no swing, na relação do Jazz com a dança:
«A relação entre música e dança é tão profunda entre os negros que, por vezes, as duas artes se interpenetram a ponto de não se saber onde começa uma e acaba outra». Panassié refere ainda a importância dos "tap dancers", que inspirariam, como se sabe, os musicais do sapateado». Mais à frente: «O branco, quando dança, escuta a melodia para seguir o trecho … Mais prudente, o dançarino negro escuta a bateria…», «…se se escuta com atenção a bateria, vê-se inevitavelmente a acentuação dos tempos “fracos” do compasso … se o branco que dança o Jazz não toma consciência dessa acentuação, marca … os tempos “fortes” do compasso… e dança assim a “contratempo”…»
O Jazz negro, verdadeiro, versus o Jazz branco, comercial. E Panassié conta como desde o fim da guerra (1914-1918) o Jazz se disseminou por todo o mundo, à Europa e à Ásia, «nem sempre o verdadeiro Jazz…»
Mas enquanto o Jazz de New Orleans é descrito como basicamente Jazz de rua, mesmo se ele tomou conta dos cabarés de Storyville, onde o piano, que não podia haver nas bandas de rua, se tornou importante, em Chicago o Jazz explodiu nos cabarés e nos speakeasy, populares no tempo da lei seca.
E foi «em Chicago … que se espalhou o hábito das jam sessions, tão importantes na história do Jazz». Panassié descreve esses tempos gloriosos, quando os músicos, depois de terminavam o seu trabalho nas orquestras, se reuniam nalguns particulares clubes, para um público restrito, até o dia nascer, desafiando-se, estimulando-se: «Era impossível ouvir fosse onde fosse Jazz tão belo como nessas jam sessions».Num outro capítulo dedicado ao Harlem – a verdadeira cidade onde os negros recriaram os seus hábitos, a sua maneira de viver e a sua música, e onde os negros se encontraram de novo consigo próprios. No Harlem o fundador do Hot Club de France invoca os pianistas de ragtime e os pianistas que desenvolveram o piano-stride – estilo onde a mão esquerda toca a nota grave no tempo forte e um acorde tocado num registo mais agudo no tempo fraco, enquanto a mão direita expõe o tema ou rendilha variações. Willie “The Lion” Smith, Duke Ellington, o voluptuoso Fats Waller, que também tocava órgão, James P. Johnson são os pianistas eleitos, enquanto as mais genuínas orquestras do Harlem eram a de Fletcher Henderson e Duke Ellington.
Os músicos maiores são, para além de King Oliver, Louis Armstrong e Duke Ellington, que merecem capítulos inteiros do livro, mas inúmeros outros são exaustivamente referidos ao longo do livro, e não deixa de ser curioso que Panassié fale sempre do Jazz negro, apresentando como exemplos maiores bandas que se assumem, mesmo no nome, como crioulas, como é o exemplo da King Oliver’s Creole Jazz Band.
Jelly Roll Morton, Jimmy Noone, Earl Hines, Mary Lou Williams, Bessy Smith e Ethel Waters, Count Basie, são apresentados como exemplos maiores da música negra, mas também Bix Beiderbecke (trompetista branco) «que nunca conseguiu assimilar inteiramente a linguagem musical dos negros».
A personalidade de Louis Armstrong (a pessoa e o músico), que atravessa todo o livro, é tratada num todo capítulo distinto, como o maior músico de Jazz de todos os tempos, assim como Duke Ellington.
No que pode parecer uma contradição, e ao contrário de Rex Harrison, o autor evidencia as qualidades de Ellington como arranjador (e desvaloriza a sua faceta de compositor: «… se bem que tenha escrito algumas peças de concerto … que não são estritamente Jazz … Mas isto são excepções na sua obra»), notando que «o tema, o arranjo e a instrumentação provêm do mesmo pensamento e formam um bloco indissociável» e «… não se sabe muito bem onde começa o tema e onde acaba o arranjo». E finalmente: «as esmeradas e subtis que se ouvem em disco nunca foram escritas. São “arranjos orais” concretizados em ensaios…» e «é-se obrigado a concluir que essa sonoridade orquestral é criação pessoal de Duke e que é ele que leva os seus músicos a fundir a sua sonoridade individual na do conjunto … mantendo … cada músico a sua sonoridade própria durante os solos. Pode dizer-se … que a sonoridade da orquestra é a própria voz de Duke».A crise económica de 1929 ditou o fim do Jazz de New Orleans, dando lugar a um novo Jazz, que se supõe, menos popular, ou pelo menos o Jazz da rua. Apesar da contaminação e degradação do gosto dos jovens negros (pelo falso Jazz de Hollywood e disseminado pela rádio), diz Panassié, novos músicos continuavam a surgir, fiéis à tradição. São exemplos maiores o fabuloso pianista Art Tatum, um discípulo de Fats Waller, ou Teddy Wilson, também Coleman Hawkins, que foi o primeiro grande saxofonista tenor da história do Jazz (e aqui contraria de novo Rex Harris), Ben Webster, Benny Carter, Chick Webb, Roy Eldridge, Sidney Cattlet, Cozy Cole e outros.
O swing merece de Hughes Panassié três capítulos, onde começa por distinguir entre o significado de swing como elemento rítmico que faz parte da própria definição do Jazz, e o swing como género musical de nome usurpado pelos brancos, uma suposta «nova forma de Jazz», surgida a partir de um acto de publicidade da orquestra de Benny Goodman, coroado como o Rei do Swing; «O êxito de Benny Goodman trouxe enorme popularidade às grandes orquestras, negras ou brancas, que tocavam uma música do mesmo género da dele» (que se inspirava principalmente na orquestra de Fletcher Henderson) e «o grande público foi levado a jujgar que o swing era a música das grandes orquestras, e é por isso que se chama “período swing”».
As grandes orquestras do Jazz verdadeiro desse período (1935-1945) são, para o autor, as orquestras de Count Basie, que se notabilizou pela abundância dos riffs nos arranjos («O riff é uma frase curta, simples e fácil de reter, frase que se destina a ser repetida mais ou menos longamente, por exemplo, durante um chorus.»), Jimmy Lunceford, Erskine Hawkins, Earl Hines, John Kirby, Cab Calloway ou Lionel Hampton, enquanto as melhores orquestras brancas foram, além da de Goodman, a de Tommy Dorsey, a de Artie Shaw, de Buddy Berigan e a de Woody Herman «que em 1944-1945 atingiu um nível superior ao das orquestras precedentes, antes de se perder no pseudo-Jazz progressista».
Mas muitos músicos se destacaram nesse período, como executantes e como improvisadores, Stuff Smith, Hot Lips Page, o já referido Coleman Hawkins, Don Byas, Lester Young, Illinois Jacquet ou Charles Christian, o guitarrista que explorou e emancipou a guitarra eléctrica.
Panassié refere também o renascimento do blues, a partir de 1937, despoletado em grande medida pelo êxito do cantor de blues Jimmy Rushing da orquestra de Count Basie, a que se seguiram o cantor e saxofonista alto Louis Jordan e Joe Turner, a par do regresso dos músicos de blues de características mais rurais, e ainda os pianistas de ragtime e de boogie-woogie.
O capítulo mais polémico do livro é dedicado ao bebop, onde afirma: «O be bop não é Jazz» (Capítulo XII): «Depois de 1940, alguns músicos que, até aí, tinham feito bom Jazz – Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk e alguns outros – começaram a introduzir nas suas interpretações efeitos harmónicos e melódicos tirados da música europeia clássica e moderna. Apaixonados pela velocidade instrumental e pela complexidade harmónica sacrificaram o swing, a qualidade sonora e expressiva, às suas preocupações extra-Jazz» e se num momento inicial eles eram ainda pouco numerosos, «a partir de 1946, estes músicos passaram a ser em número suficiente para formar orquestras inteiras de be bop, e então foram definitivamente rompidas as ligações com o Jazz».
Contrariando os que pretendiam que o Jazz era Jazz ou o novo Jazz, Panassié contesta: «… só a ignorância do que é verdadeiramente o Jazz pode permitir acreditar que o be bop é Jazz». Os boppers teriam para o autor abandonado as raízes do Jazz, que estava nos espirituais e nos blues. A bateria que era o coração da orquestra era agora tocada de forma caótica, quebrando o swing e enervando o solista em vez de o apoiarem. E continua: «o be bop já não é, como o Jazz, uma música de dança», «A música dos grandes jazzmen … dirige-se ao coração… O be bop, pelo contrário, pode interessar aos profissionais pelas suas pesquisas técnicas, mas é desagradável, fastidioso para o ouvinte que procura ser tocado, emocionado pela música e que não se interessa pelas preocupações de ordem técnica».
E Panassié remata: «o pseudo-Jazz “progressista” representa não um progresso, mas uma regressão, um passo dado para trás no domínio da música. Nem sequer é uma novidade, visto que se trata de uma imitação (por vezes bastante má) da música europeia … A música nova, aquela que representa uma contribuição das mais originais para a arte do nosso tempo, é o Jazz, o verdadeiro Jazz, aquele que, desde os seus primórdios até aos nossos dias, se manteve fiel à tradição musical dos negros dos Estados Unidos».Uma curiosidade do livro é a intromissão cerrada do tradutor, Raul Calado, 1964 (que também já tinha traduzido o livro de Rex Harris), que nunca se relega para o papel de mero tradutor, em sistemáticas notas de rodapé. Calado observa, contesta, corrige, opina, incomodado pela opiniões fundamentalistas de Hughes Panassié: «É ingrata a posição de um tradutor que está com frequência em total contradição com o autor». Calado faz observações técnicas, desafiando o conservadorismo do fundador do Hot Club de France, mesmo se, como sabemos, ele é um apaixonado do Jazz de New Orleans.
Controverso, anedótico até, por vezes, considerando o que sabemos hoje da História do Jazz, o livro de Hughes Panassié peca fundamentalmente pelo fundamentalismo, pois que ele é verdadeiramente um apaixonado pelo Jazz, o que o leva a observações que rasam o racismo, mas claramente ele sabe do que fala. E convém naturalmente saber que o livro foi escrito em 1959.
História do Verdadeiro Jazz, outro livro fundamental para os estudantes do Jazz.
Hugues Panassié, Rex Harris, conclusão
O Jazz de Rex Harris e Panassié, apesar das divergências, era claramente o mesmo: o Jazz de New Orleans; um folclore negro, com origem nos blues, nas worksongs e nos espirituais, música de dança, feita a partir do coração, ao ritmo do coração e para o coração, hot, emocionante, com swing, acentuada nos tempos fracos, música improvisada, oral, não escrita, música colectiva e simultaneamente individualista, onde a instrumentação deriva da voz e da respiração humana. Enfim, como todos os folclores, aprisionado nos limites de uma cultura e uma técnica.
Se o Jazz foi tocado pelos negros em grande maioria nos seus primórdios, ambos os autores parecem fazer tábua rasa de que ele nasceu, não numa linha directa com os folclores negros, mas do conflito entre a música tradicional e a música «branca», onde foram buscar não apenas a notação e os instrumentos, mas a própria estrutura das marching bands militares e o ragtime, o que se tornou evidente, logo de seguida, com a introdução do piano no Jazz. O curioso é que o referem um sem número de vezes, sem daí tirar conclusões.
Os folclores possuem como definição a pertença a uma cultura, mas é também por isso uma música impedida de evoluir pelas forças centrípetas que fazem parte da sua génese. Ora os dois autores, ao mesmo tempo que definem o Jazz como música negra, são abundantes na citação dos músicos crioulos, ou mesmo brancos, que eram afinal a normalidade desse Jazz dos primórdios: já referi a evidência, no próprio nome de algumas dessas bandas, como a King Oliver Creole Jazz Band, onde tocaram alguns dos músicos considerados mais genuínos desse período, o próprio King Oliver e Louis Armstrong, que assumiam o carácter crioulo da sua música (independentemente de eles próprios serem negros ou crioulos) ou Jelly Roll Morton, um crioulo com formação musical «ortodoxa». A mestiçagem do Jazz, ao mesmo tempo musical e social, que faz parte do seu código genético, que é uma vez mais exaustivamente descrita, é o que lhe oferece o carácter híbrido.
Quando elogiam Ellington ou o detractam, ou quando o vituperam ou admitem a possibilidade dos boppers, Harris e Panassié apreciam apenas alguns aspectos das suas personalidades, agastando outros, sem perceber que a sua vontade de evoluir estava na génese do Jazz desde o primeiro momento.
Ainda assim, não deixo de lhes observar a bondade das conclusões e até alguma coerência. Eles amavam aquele Jazz popular de New Orleans e quando contestavam o seu «embranquecimento», eles de facto estavam a combater o seu aligeiramento, e a sua dissolução enquanto «linguagem musical» singular; e para isso era necessário também que retirassem de Duke Ellington ou Woody Herman o que de menos «ortodoxo» ou «europeu» havia, ou o caos e velocidade – que impedia dançar – do bebop, ou enfim colocassem regras instrumentais que hoje nos parecerão ridículas. Mas afinal ambos os livros foram escritos na década de 50.
E estarei talvez a tirar conclusões prematuramente.